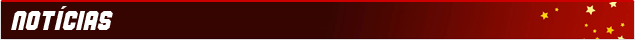
Cinema: A Grande Beleza
O conflito entre o clássico e o moderno no filme de Paolo Sorrentino. Por Matheus Pichonelli
Sábado, 25 de janeiro de 2014
Há uma referência constante, em A Grande Beleza, à obsessão do escritor francês Gustave Flaubert em escrever um livro sobre o nada. Surge nas rodas de conversa toda vez que Jap Gambardella, o escritor consagrado e boêmio interpretado por Toni Servillo, se depara com a nulidade de sua rotina aos 65 anos. Àquela altura da vida, não tem grandes pretensões a não ser driblar o tédio com noitadas regadas a bebida, música eletrônica, relacionamentos fugazes e conversas sobre a chateação de se viver em um período de decadência estética.
Na obra de Paolo Sorrentino, favorito ao Oscar de melhor filme estrangeiro, é possível ouvir o eco dos milionários excêntricos de A Doce Vida, de Federico Fellini, como é possível identificar uma certa personificação de Roma, berço da antiguidade cujas ruínas resistem em meio à modernidade líquida, conectada, acelerada e globalizada. Jap e a capital italiana, cenário do filme, têm muito em comum. Enquanto todas (ou quase todas) as grandes cidades da humanidade tiveram de se adaptar em algum momento ao mundo moderno, Roma se deu ao luxo de observar um caminho inverso: foi a modernidade que se adaptou a ela. Jap, a exemplo da cidade, é adorados pelo que produziu no passado. E está, como a cidade, cercado por uma perspectiva de futuro extra-muros.
Este conflito, nem sempre sutil, entre o clássico e o moderno se espalha por diálogos, sons e cenários do filme de Sorrentino. Jap mora aos pés do Coliseu, mas para entrar em seu apartamento precisa digitar uma sequência de números antes de passar o dedo em uma leitora biométrica. Ele frequenta espaços descolados com uma elegância deslocada guardada em um paletó branco com lenço de bolso que ninguém mais usa.
Nessa área de contato, já não se encanta com o que se apresenta como “o novo”: aos 65 anos, e entre tudo o que não conseguiu completar ou viver (não teve filhos, não se casou, não se converteu, não escreveu um livro do qual se orgulhasse), parece condenado a encerrar a vida com a sensação de já ter vivido tudo o que precisava viver.
Ao longo do filme, o personagem responde a uma pergunta recorrente: por que você parou de escrever? Escrever para quê?, parece dizer o personagem. Em seu livro de memórias, Viver para Contar, o escritor colombiano Gabriel Garcia Marquez define o que considera a essência de estar vivo. Algo como: “A vida não é o que se viveu, mas sim o que se lembra, e como se lembra para contar”.
Jap já não conta, mas vive. É o avesso de Eduardo Marciano, personagem de Fernando Sabino em O Encontro Marcado que gasta a vida à espera da hora certa para escrever – enquanto o tempo passa e atinge a maturidade, percebe não estar autorizado a fazer nada menos do que um novo Guerra e Paz, de Tolstói. Mas Jap é o escritor consagrado na juventude. Não viveu para escrever, mas escreveu para viver. O livro que o consagra é o mesmo que o aprisiona: deu a ele a fama, e o direito de capitalizar a fama e viver desobrigado a narrar o presente, que já não importa.
“Vim, vi, e venci: e agora, e daí?”, parece se questionar o personagem. Esta postura é o que permite dançar como se não houvesse amanhã em uma festa tomada por jovens no auge do estado físico ou se entediar com a performance de uma artista que jura absorver a vibração do mundo em sua apresentação – que consistia em chorar, correr ao ar livre, bater a cabeça em uma pedra e ouvir aplausos caudalosos enquanto a testa sangra. Mas como se encantar com o pós-moderno quando se caminha entre a Fontana de Trevi, o Panteão, a Piazza di Spagna? Como ler (ou escrever) à sombra de Dante Alighieri? Ou desenhar à sombra de Michelangelo? Soa ridículo, como soa ridículo o ritmo intenso da dança dos personagens de elegância notável e tragicamente deslocados entre a vulgaridade juvenil das casas noturnas.
Aos 65 anos, o personagem não se vê obrigado a aderir a mais nada. O descompromisso dá a ele o direito inclusive de abandonar uma conversa com uma mulher com quem passaria a noite. Seminua, sobre a cama, ela pergunta se ele quer ver algumas fotos dela (nua, claro) postadas no Facebook; quando ela volta com o laptop em mãos, ele já não está lá. "Aos 65 anos", explica diante da câmera, "tenho o direito de não fazer nada que não queira". A desobrigação com o novo e sua linguagem, eletrônica, posada, plastificada, é latente.
Neste mundo de exposições gratuitas, que se espalham em rede mas não encantam, como encontrar a grande beleza, a matéria-prima da criação artística? “Como posso escrever sobre isso?”, pergunta-se o escritor ao ver os amigos dançarem até cair em uma das muitas festas em sua casa. “Isso é o nada. E como eu posso escrever sobre o nada se nem Flaubert conseguiu?”
Sem perceber, é justamente esta inquietação que faz do personagem um artista autêntico. Carlos Drummond de Andrade, poeta brasileira que viveu uma vida frugal como funcionário público e jamais foi superado em versos, não escondia sua admiração por Vinícius de Moraes, boêmio, mulherengo e desregrado. Sobre ele, Drummond afirmou: “Muitos tentaram, mas só Vinicius viveu como poeta”. Para o artista, viver e escrever (ou pintar ou dançar) não são atividades dissociadas: o drama de não escrever nem alcançar o que se quer é o drama que o move e o aprisiona. Pois a angústia de não produzir à altura do que se sonha é uma obra de arte em si – inacabada, mas eterna. Não é outro o elemento que faz de A Grande Beleza uma Obra Prima em letras garrafais.























